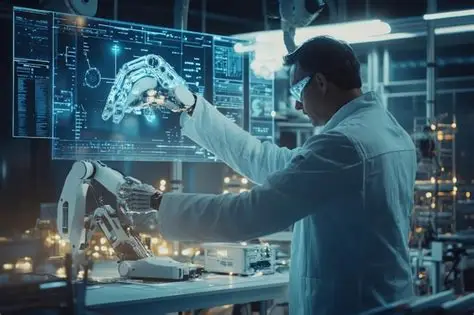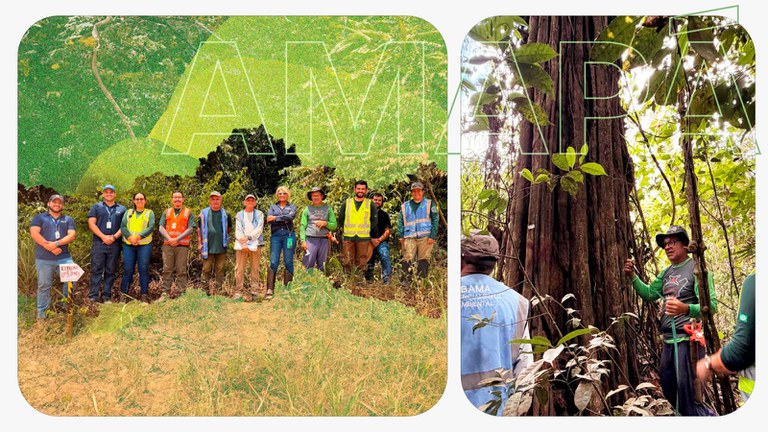A revista PIM Amazônia dá continuidade à série “Petróleo na Amazônia: riqueza em jogo entre promessas e riscos”, que analisa os impactos econômicos, sociais e ambientais da possível exploração de petróleo na margem equatorial brasileira. Nesta segunda reportagem, o foco recai sobre a distribuição de royalties e as implicações fiscais e sociais para o Amapá, estado que está no centro das expectativas em torno da Bacia da Foz do Amazonas. A matéria dá sequência à cobertura que, na edição anterior, abordou o debate sobre licenciamento ambiental e as controvérsias que cercam o avanço da atividade petrolífera na região.
A exploração de petróleo e gás natural no Brasil é regulada por um marco legal que prevê compensações à sociedade, por meio do pagamento de royalties e de “participação especial”, para as empresas que operam nos campos produtores. A lógica é que, como os hidrocarbonetos são bens não renováveis e de alto valor econômico, parte da receita deve voltar para a União, aos estados e municípios produtores ou impactados. Os royalties funcionam, então, como uma espécie de “aluguel” que empresas, como a Petrobras, pagam ao governo por usar os recursos naturais.
Legislação
A cobrança e a divisão dos royalties do petróleo no Brasil são resultado de um conjunto de leis criadas para garantir que a riqueza obtida com a exploração de um recurso natural, finito e pertencente à União, seja compartilhada entre os diferentes níveis de governo. A história começa em 1989, com a Lei nº 7.990, que introduziu pela primeira vez o conceito de compensação financeira para estados e municípios produtores de petróleo e gás natural. A ideia era simples: compensar financeiramente os entes que sofressem impacto ambiental ou infraestrutural pela atividade.
Com o tempo, o modelo foi aperfeiçoado: em 1997, veio a Lei nº 9.478, conhecida como Lei do Petróleo, que consolidou o regime de concessões e definiu de forma mais detalhada como e quanto as empresas deveriam pagar de royalties. A norma fixou a alíquota básica entre 5% e 10% do valor da produção, podendo chegar a 15% conforme as características do campo: profundidade, localização e volume extraído.
Já em 2010, a Lei nº 12.351, que regulamentou a exploração do pré-sal, alterou esse artigo da lei anterior e confirmou a alíquota de 15% para as novas áreas sob o regime de partilha de produção, estabelecendo também novas formas de rateio entre União, estados e municípios.
A última grande mudança ocorreu em 2013, com a Lei nº 12.858, que determinou que parte dos royalties e das participações especiais fosse obrigatoriamente aplicada em educação e saúde. A lei exige que 75% das receitas de royalties sejam destinados à educação pública e 25% à saúde, tanto nos estados quanto nos municípios. Na prática, esses recursos podem financiar desde a construção de escolas e hospitais até programas de capacitação de professores, compra de equipamentos, atenção básica e melhoria de infraestrutura de saneamento ligada à saúde pública.
O Amapá em alguns números
Para ilustrar esse cenário, com base nos dados mais recentes do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), referentes ao ano de 2021, o Amapá registrou um Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de 0,688, número na faixa considerado médio, já que, para ser considerado alto, é preciso estar acima de 0,700. Já sua capital, Macapá, apareceu na última posição entre as 21 capitais brasileiras avaliadas no novo ranking do IDHM de 2022. O estudo, que considera indicadores de renda, educação e longevidade, apontou um índice de 0,695 para a capital amapaense.
Dados divulgados em 2024 pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) mostram que o estado lidera a evasão escolar na região Norte, com 7% dos jovens fora da sala de aula, índice que é mais que o dobro da média nacional, de 2%. A situação é ainda mais crítica entre adolescentes de 15 a 17 anos, faixa etária mais afetada pela exclusão escolar.
Em termos de desempenho, o Amapá também não conseguiu alcançar a meta nacional do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 2023. O estado obteve 5,0 nos anos iniciais do ensino fundamental, abaixo da média nacional de 6,0; 4,3 nos anos finais, frente à média de 5,0; e 3,8 no ensino médio, enquanto a média nacional ficou em 4,3.
Na saúde, a taxa de mortalidade infantil (óbitos de menores de 1 ano por mil nascidos vivos) foi estimada em aproximadamente 21 em 2023, valor superior ao da média da Amazônia Legal e ao restante do Brasil.
Palavra do economista

O economista Charles Chelala, especialista em Desenvolvimento de Áreas Amazônicas e professor da Universidade Federal do Amapá (Unifap), explica que o estado hoje está entre os estados mais dependentes economicamente do país, disputando sempre as últimas posições com o estado de Roraima. Segundo ele, a cada R$ 10 empregados em salários, cerca de R$ 7 saem para servidores públicos, e estima-se que 57 % do Produto Interno Bruto (PIB) seja gerado pela administração pública. Essa situação decorre de dois fatores principais:
Legado de ex-território: o Amapá foi ex-território federal e, historicamente, os ex-territórios têm forte presença do setor público.
Infraestrutura privada pouco desenvolvida: a infraestrutura é muito deficitária. O Amapá é o único estado brasileiro que não está conectado rodoviariamente ao restante do país, enfrenta dificuldades na transmissão e distribuição de energia elétrica, e apresenta um dos mais baixos índices de saneamento. As rodovias federais principais, a BR‑156 e a BR‑210, não estão completamente pavimentadas.
Por isso, Chelala destaca a importância das atividades a jusante, ou seja, aquelas que ocorrem antes da produção propriamente dita, como construção de plataformas, formação de cadeias de fornecedores, serviços e qualificação profissional local. Ele aponta que os royalties da produção de petróleo poderiam alimentar receitas municipais semelhantes às de municípios como Campos dos Goytacazes (RJ) e Vitória (ES).
“É claro que existe o conceito da ‘maldição do petróleo’, locais com petróleo que, paradoxalmente, têm população pobre, mas esse risco pode ser mitigado se houver coordenação entre poderes públicos, sociedade civil e a empresa produtora com forte compromisso socioambiental”, alerta.
Para o professor, se o estado for vítima de um projeto extrativista isolado, surgem problemas: o influxo de trabalhadores atrai pessoas ao estado que já tem alta taxa de desemprego e poucas alternativas, o que gera pressão sobre serviços públicos e infraestrutura local.
Em 2024, a Confederação Nacional da Indústria (CNI) estimou que a exploração de petróleo na Bacia da Foz do Amazonas poderia acrescentar R$ 10,7 bilhões ao PIB do Amapá, representando um aumento de 62,2% na economia estadual, além da geração potencial de 53.916 empregos. O estudo considerou a hipótese de exploração de um bloco por estado, com produção de 100 mil barris por dia, preço médio do barril a US$ 80 e taxa de câmbio de R$ 4,93.
Segundo o professor Chelala, antes mesmo da produção propriamente dita, dos 16 municípios amapaenses, nove cresceram em população, embora em ritmo moderado. “O município que mais cresceu foi Oiapoque, onde a presença de sondas e atividades exploratórias gerou pressão imobiliária, aumento de emprego, fortalecimento da universidade local, a Universidade Federal do Amapá, e melhoria na arrecadação municipal”, aponta.
O especialista também enfatiza os programas sociais, advindos da Petrobras, que resultaram em dezenas de milhões de reais em editais para educação, meio ambiente e outras iniciativas na região norte do estado. “O efeito já se faz sentir, principalmente porque o mercado local ainda é pequeno: uma simples movimentação relevante provoca impacto elevado”, inclui.
Quem recebe
Segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), a fatia que cada ente recebe depende de onde está o campo de produção. Há duas situações principais:

Produção em terra (onshore) – Quando a extração acontece em solo, rios ou ilhas, a divisão padrão é:
- Município produtor: 30%
- Estado produtor: 20%
- União: 50% (distribuídos entre ministérios, Marinha, ANP e fundos especiais).
Essas porcentagens estão previstas no Decreto nº 1.899/1996 e confirmadas pela ANP.

Produção no mar (offshore)
Quando o campo fica em alto-mar, como é o caso da Bacia da Foz do Amazonas, a repartição é um pouco diferente:
● Estados confrontantes: 26,25%
● Municípios confrantes: 22,5%
● Municípios com terminais, portos ou instalações de embarque e desembarque de petróleo e gás: 7,5%
● Fundo Especial da União: 15%
● Comando da Marinha: 20%
● ANP e Ministério de Minas e Energia: cerca de 8% (somados, para fiscalização e regulação).
No caso de campos offshore, nenhum município pode ser considerado produtor, porque o petróleo é extraído na plataforma continental, uma área que pertence à União, não ao município ou ao estado (neste caso, eles são denominados “confrontantes” e são definidos por projeções geodésicas do IBGE sobre a costa). Na Bacia da Foz do Amazonas, só haverá municípios confrontantes, porque toda a produção prevista é offshore.
Municípios com Instalações de Embarque e Desembarque (IED) de petróleo e gás (portos, monobóias ou pontos de entrega do gás), mesmo sem serem “produtores” ou “confrontantes”, podem receber por abrigarem infraestrutura ligada ao escoamento/entrega da produção. A Bacia da Foz do Amazonas abrange o litoral do Amapá e parte do Pará, estados confrontantes que podem receber, se houver produção offshore.

No Amapá, os municípios costeiros listados pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) incluem Oiapoque, Calçoene, Amapá e Macapá, Cutias, Itaubal, Santana e Mazagão. Macapá é considerado município costeiro por conta das ilhas do arquipélago do Bailique, que ficam no estuário. Isso não significa que todos receberão; significa apenas que estão na zona costeira que o IBGE usa como base técnica para projetar confrontação quando houver campo definido. A ANP/IBGE publicarão a lista de confrontantes do(s) campo(s) assim que houver produção.
Municípios com IED (se vierem a existir no AP) também podem ter direito, mesmo sem serem “confrontantes”, desde que a IED esteja tecnicamente vinculada ao escoamento/entrega da produção (petróleo/gás) daquele sistema. A ANP e o Superior Tribunal de Justiça (STJ) enfatizam a vinculação técnica e não apenas a “presença física” da instalação.
Quem não recebe
Municípios sem produção em terra, sem confrontação marítima e sem IED não têm direito a royalties de produção, entendimento aplicado pela ANP e confirmado em decisões judiciais. Manaus e Boa Vista, por exemplo, não possuem confrontação com a Bacia da Foz do Amazonas nem IEDs de petróleo e gás associadas a ela.
Da mesma forma, municípios do Amapá, como Laranjal do Jari, Vitória do Jari e Tartarugalzinho, também não recebem repasses, uma vez que não atendem aos critérios técnicos exigidos. Só haveria direito ao benefício caso fosse implantada alguma IED do sistema de escoamento vinculada diretamente à produção dentro de seus territórios, o que, até o momento, não ocorre.